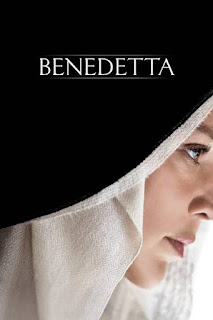quinta-feira, 24 de fevereiro de 2022
Crítica | Um 'coming of age' sobre o agora, "Licorice Pizza" assume a inquietude juvenil como força motora num filme cuja beleza está na imperfeição
terça-feira, 22 de fevereiro de 2022
Crítica | Sensível e acolhedor, "Sempre em Frente" busca na verdade infantil a esperança de um novo futuro
"Quando pensa no futuro, como você imagina que vai ser?". Em "Sempre em Frente", o sensível diretor Mike Mills parte desta pergunta para mergulhar no caótico mundo em que vivemos sob a perspectiva infantil de uma nova geração prestes a ser engolida pela realidade. O cineasta enxerga a esperança na pureza destas crianças. O cineasta, ao mesmo tempo, repercute o nosso processo de formação/deformação ao usar o presente como um melancólico contraponto.
O que fascina em "Sempre em Frente" é notar como o roteiro assinado pelo próprio diretor rompe com os clichês dos 'coming of age movies' ao tratar adultos e crianças em condição de igualdade. Na verdade, Mills usa a cativante relação entre tio (Joaquin Phoenix) e sobrinho (Woody Norman) como uma espécie de espelho. O presente se reconhece na angústia do futuro. O futuro se entristece ao enxergar o presente como um possível destino.
Sob a óptica adulta, "Sempre em Frente" pode ser considerado uma obra sobre o difícil processo de reconexão com o "eu" infantil. Com um texto/direção pautado pelo intimismo, Mills desenvolve a troca de experiências entre Johnny e Jesse a partir das dúvidas. Estamos diante de um filme que busca respostas para perguntas que não temos como controlar. Ou temos? O documentarista Johnny viaja pelos EUA disposto a ouvir a verdade das crianças. Seus questionamentos revelam a esperança de um futuro melhor. Mills enxerga a maturidade de uma nova geração atenta à realidade do mundo. As crianças falam em igualdade, em justiça social, em respeito às diferenças.
Boa parte destes depoimentos, contudo, são ilustrados com imagens da rotina das grandes metrópoles. Engarrafamentos. Grandes arranha-céus. Caos urbano. Planos abertos de metrópoles desumanizantes. Um paralelo revelador. Será que a pureza dos entrevistados sobreviverá ao ritmo do mundo em que vivemos? Será essa a nova geração que irá fazer a diferença? Mike Mills não tem esta resposta. "Sempre em Frente", contudo, prefere acreditar.
Para isso, o cineasta funde o documental/macro ao ficcional/micro determinado a estudar o efeito transformador na relação entre o presente e o futuro a partir da intimista jornada de conexão entre os protagonistas. Guiado pela serena performance de um caloroso Joaquin Phoenix e pela complexa presença do pequeno Woody Norman, Mills se encanta pela natureza reflexiva desta troca de experiências. Embora em posições obviamente diferentes, Johnny e Jesse esbarram em questões comuns a crianças e adultos. Ambos experimentam a solidão. Ambos enfrentam o abandono. Ambos temem o futuro. Ambos estão dispostos a mudar o presente.
Quando Johnny encara Jesse ele encontra as dúvidas que um dia já foram suas. Mills, entretanto, enxerga um novo rumo na precocidade destas crianças. Na honestidade no trato das emoções. Por trás das birras infantis se esconde a verdade de um menino comunicativo que teme a ausência da mãe e a doença do pai. Por trás da melancolia adulta existe a verdade de um homem silencioso que sofre diante da ausência da mãe e da falta de raízes.
"Você acha que eu vou ser igual ao meu pai", pergunta um temeroso Jesse. "Não! Você sabe lidar melhor com os seus sentimentos", responde um convicto tio com a certeza que ali estava a criança que a sua geração não lhe permitiu ser. A luminosa fotografia em preto e branco de Robbie Ryan reforça os leves contrastes entre os dois, sempre prezando pelo espaço dos personagens. A câmera de Mills muitas vezes fica à espreita. O cineasta se distancia para enxergar o todo e se aproxima para realçar a beleza de uma relação regida pela verdade.
Em "Sempre em Frente", o novo futuro é construído a partir do presente num filme belíssimo sobre o crescer, o viver e o amadurecer na caótica estrutura social em que vivemos. Mills isola os protagonistas deste mundo reconhecível ao mergulhar na intimidade dos personagens. Nos laços solidificados ao longo do percurso. Nas memórias criadas ao longo do caminho. São elas que fazem o presente seguir acreditando num futuro melhor.
sexta-feira, 18 de fevereiro de 2022
Crítica | "O Massacre da Serra Elétrica: O Retorno de Leatherface" se equilibra perigosamente entre a brutalidade e a imbecilidade numa 'requel' frustrante
Em 1974, o cineasta Tobe Hooper abalou as estruturas do cinema de horror com o lançamento de "O Massacre da Serra Elétrica". Desde "A Noite dos Mortos Vivos" (1968) Hollywood não via um filme tão cru chegar ao mainstream. Uma obra marginal, mas com virtudes estéticas inegáveis. Um longa visceral, mas capaz de usar o terror para expor uma outra face dos EUA. Um país consumido pelo ódio, pela miséria e pela disfuncionalidade. Uma América que os EUA destrinchou sem pudor ao longo dos anos 1970.
Após o sucesso do cultuado longa setentista, muitos produtores tentaram revitalizar a marca "Texas Chainsaw Massacre". Nenhum chegou perto de conseguir. Nenhum conseguiu enxergar além do peso da violência gráfica. Talvez a mais ousada dessas continuações, "O Massacre da Serra Elétrica: O Retorno de Leatherface" renega tudo o que foi lançado nas últimas décadas ao se assumir como uma sequência direta do original.
É interessante ver como a produção Netflix dirigida por David Blue Garcia dialoga com o teor do hit de horror de 1974 ao focar primeiro no elemento social. Os jovens ignorantes do passado ficaram para trás. A nova geração "invade" com ideais próprios. Sobreviventes de um atentado numa escola norte-americana, os engajados Dante (Jacob Latimore), Melody (Sarah Yarkin), Ruth (Nell Hudson) e Lila (Elsie Fisher) resolvem tirar proveito da decadência econômica de uma cidade do interior para estabelece um utópico conceito de futuro através da especulação imobiliária.
Em "O Massacre da Serra Elétrica: O Retorno de Leatherface", as boas intenções dos jovens adultos escondem a gentrificação. Assim como no original, Garcia usa a inocência como o botão que aciona a explosão de violência. Um começo promissor aniquilado, primeiro, pela maneira descuidada com que o roteiro de Chris Thomas Devlin mergulha nas intenções dos protagonistas. A ambiguidade com que o texto explora o viés progressista dos personagens não é por si só um problema. O que pesa aqui é ver como o filme trata temas sensíveis como a violência gerada pela bélica sociedade americana apenas como um mero gatilho narrativo sem peso. É a violência como resposta a violência.
"O Massacre da Serra Elétrica: O Retorno de Leatherface" se equilibra perigosamente entre a brutalidade e a imbecilidade numa sequência que distorce, mas entrega quando o assunto é o horror. Por trás do mau uso de temas complexos existe um argumento que funciona dentro do que se propõe. Green enxerga a beleza no horror ao resgatar a imponência do temido Leatherface com um olhar que humaniza para chocar. Uma abordagem que, embora faça pouco sentido, não afeta em nada a ferocidade da continuação. A sequência do ônibus, em especial, (mesmo com um CGI sem peso) entrega aquilo que o público esperaria ver de um filme que traz no título as palavras "massacre" e "serra elétrica".
A violência em "O Retorno de Leatherface" faz jus ao original. Garcia resgata a potência visual da obra de Tobe Hopper ao criar sequências imagéticas capazes de enervar. Isso até o longa sucumbir aos clichês de dez entre dez filmes de horror pasteurizados. Isso até descobrimos que o passado, aqui, está a serviço de um novo (e frustrante) começo. Com um último ato desastroso, "O Massacre da Serra Elétrica: O Retorno de Leatherface" termina zombando da inteligência do espectador ao mostrar o quão grande pode ser o abismo que separa um filme brutal de uma obra pesada.
terça-feira, 15 de fevereiro de 2022
Crítica | Em "A Mulher que Fugiu", Hong-Sang Soo invade a aconchegante rotina de uma mulher à procura de respostas para perguntas nunca verbalizadas
Existe uma aura aconchegante em "A Mulher que Fugiu" que nos mantém estranhamente conectados com uma obra em que - à rigor - pouca coisa acontece. O cultuado diretor Hong Sang-soo nos seduz com um cinema pautado pelo rotineiro enquanto segue os passos de uma mulher à procura de algo escondido nos detalhes. O que ela quer encontrar?
Com o possessivo marido numa viagem de negócios, a simpática Gam-Hee (Kim-Min Hee) embarca para o interior disposta a recuperar o vínculo com três amigas do passado. O que nós vemos a partir daí são diálogos banais sobre o dia a dia, sobre projetos para o futuro, sobre desilusões amorosas, sobre o passado. O tipo de papo que qualquer amigo de longa data teria após um período de separação.
Uma abordagem rotineira que tende a dividir o público. Uns vão achar o filme lento. Outros vão contestar o propósito. Ninguém, porém, poderá dizer que "A Mulher que Fugiu" não é um longa convidativo. Com uma câmera estática que captura as expressões dos personagens com um peculiar uso do zoom, Sang-soo se encanta pela natureza universal/reconhecível das suas personagens. É confortável ver a serenidade destas mulheres. Ver a funcionalidade 'clean' criada por elas. Experimentar o acolhimento. A empatia. O suporte. O cineasta se recusa a alimentar expectativas. "O que você esconde no terceiro andar", pergunta Gam-hee para a sua primeira amiga visitada. Por um segundo achei que existia um mistério escondido na aparente aleatoriedade da trama. A resposta não poderia ser mais anti-climática...
Existem, contudo, segredos escondidos em "A Mulher que Fugiu''. E eles estão nas entrelinhas. Na maneira com que a protagonista parece buscar respostas na rotina das suas amigas. A independência delas chama a atenção. O vazio também. Assim como os conflitos sentimentais, as imposições e a falta de voz numa estrutura desigual. Gam-hee quer dizer algo. Aquelas mulheres também. O não dito, entretanto, é mais elucidativo que as palavras verbalizadas. "A Mulher que Fugiu'' revela muito sem dizer nada através de imagens que abraçam o espectador. À procura de respostas, Gam-hee encontra a paz de um cinema vazio. Tem dias que é isso o que precisamos…
quinta-feira, 10 de fevereiro de 2022
Crítica | "O Beco do Pesadelo" rompe com a narrativa clássica ao enxergar o horror na monstruosidade humana
O que faz uma refilmagem acontecer? Um remake, para mim, precisa ter ideias próprias. Um remake precisa se emancipar na relação com o original. Um remake não pode se contentar com a simples "atualização". São poucos os que conseguem isso. Não à toa, a "moda" hoje são as populares 'requels'. Uma conveniente mistura de refilmagem com sequência pensada para apresentar o material fonte para uma nova geração. Poucos cineastas mergulham de fato no texto original de obras consagradas dispostos a extraírem algo autêntico delas.
Guillermo Del Toro, felizmente, é a exceção da regra. É fascinante ver o que o realizador faz em "O Beco do Pesadelo". Ele não tem pressa em assumir o controle sobre a sua versão do remake. Ele, só aos poucos, rompe com a narrativa clássica do ousado thriller noir de 1947 ao trocar o monstro no fundo da garrafa pelo monstro no fundo da alma. E ninguém entende de monstros como Del Toro...
Com apego aos signos de uma Hollywood clássica, o diretor é cuidadoso ao estabelecer os motivos em torno da refilmagem. Antes de impor a sua assinatura enquanto autor, ele mergulha na rotina dos circos itinerantes dos anos 1940 na busca pela imersão. A paciente construção narrativa é parte da quebra de expectativa criada. "O Beco do Pesadelo" não se apressa ao estabelecer a índole dos seus personagens. O imagético cenário é quase um protagonista no ato inicial. É através dele que Del Toro forja as peças de uma cruel história de ambição.
Num primeiro momento, "O Beco do Pesadelo" chama a atenção pura e simplesmente pela atualização proposta. As cores trazem uma nova textura para a trama. A elegante direção de arte reforça o vigor visual de um longa que nos transporta para outra época numa experiência rica em detalhes. A fotografia em tons de verde e vermelho escuro sugere a deterioração ofuscada pelo brilho das excêntricas atrações. A câmera de Del Toro, sempre em movimento, envolve os personagens querendo dizer algo sobre eles. Não existe espaço para planos estáticos aqui. Mesmo nas sequências mais intimistas, o realizador usa a angulação das cenas para estabelecer o jogo de poder nas micro-relações estabelecidas ao longo da obra. Um tabuleiro em constante mudança…
Em "O Beco do Pesadelo", o monstro escondido no fundo da garrafa é apenas uma sequela. Neste mundo de altos e baixos, Del Toro introduz os seus expressivos personagens com um olhar atento para a real posição deles naquele microcosmo. A partir da perspectiva de Stan (Bradley Cooper), um homem misterioso de passado nebuloso, o realizador mergulha neste universo determinado a enxergar as virtudes e os pecados.
Algumas peças, como o ganancioso Clem (Willem Dafoe), a inocente Molly (Rooney Mara) e o turrão Bruno (Ron Perlman), se revelam facilmente. Outras como o trágico Pete (David Strathaim), a sedutora Zeena (Toni Collette) e o próprio Stan possuem nuances complexas que nem o melhor dos mentalistas poderia decifrar com facilidade. São nestes tipos que Del Toro se interessa. É na ambiguidade deles que o diretor busca acessar os tais monstros escondidos no fundo da alma.
Em sua primeira hora, "O Beco do Pesadelo" fala basicamente a mesma língua do original ao desnudar os seus personagens a partir da relação deles com a ambição. Se por um lado é frustrante ver como Del Toro não se apega a dinâmica pupilo/mentor envolvendo Stan e Pete, por outro é intrigante ver como o roteiro rompe com o viés concessivo do clássico ao enxergar as armadilhas escondidas nas elipses. Del Toro estabelece o círculo vicioso sem se prender a ele. O cineasta se afasta da verve moralista para enxergar a corrosão humana num meio desigual
Em "O Beco do Pesadelo", Guillermo del Toro assume as rédeas do remake à medida que ele escancara a falta de controle numa estrutura que se alimenta da fragilidade humana. A Segunda Guerra Mundial é o contexto. O terror, aqui, não está simplesmente na deterioração do indivíduo. O horror está na relação do homem com uma engrenagem desvairada. Na sua jornada rumo ao topo, Stan cruza o caminho de tipos poderosos, como o atormentado Ezra (Richard Jenkins), de mulheres ardilosas, como a terapeuta Lillith (Cate Blanchett, puro de veneno), de indivíduos vulneráveis, como a solitária Miss Harrington (Mary Steenburgen, que elenco é esse!). Todos frutos de um mesmo meio. Todos vítimas dos seus monstros interiores. Ele não está interessado na pureza dos virtuosos. O foco está na angústia dos desvirtuados.
"O Beco do Pesadelo" troca o mistério dos thrillers noir pelo horror do mundo real num filme sobre os fantasmas de carne e osso. Almas consumidas pelo ódio, pela ambição, pela vingança, pela tristeza. Almas personificadas na magistral performance de Bradley Cooper. A autoestima do homem cego pela sua sede de poder é investigada com riqueza de detalhes numa atuação de alguém disposto a abraçar todas as nuances do seu Stan. Enquanto a câmera de Del Toro se movimenta com uma suavidade calculada, Cooper age/reage guiado pelo instinto de um homem forjado para sobreviver. É a total conexão entre ator e personagem. É a verdade encapsulada não num copo de bebida, mas na fraqueza de um corpo de carne e osso.
Em "O Beco do Pesadelo", o horror que se manifesta em tela (Del Toro assume a brutalidade sem culpa) é uma consequência da monstruosidade do indivíduo humano num filme que não se compadece pela realidade que criamos para nós mesmos. "Eu nasci para isso!", é a sentença final perfeita para uma crônica sobre o fim anunciado a cada transição temporal. A cada passo em falso. Não é difícil "decifrar" a realidade. O desafio é escapar dela sem se perder pelo caminho.
quinta-feira, 3 de fevereiro de 2022
Crítica | "Matrix Resurrections" escolhe a pílula azul numa continuação com um ilusório conceito de controle num mundo tecnológico
A coragem é uma virtude pela qual eu sempre vou prezar no cinema. Ainda mais no mainstream. É sempre prazeroso ver um filme (ao menos tentar) fugir da mesmice. É sempre prazeroso ver a desconstrução de signos e convenções. "Matrix Resurrections'' é um filme corajoso. Isso é inegável. De volta a franquia que a consagrou, Lana Wachowski (agora em voo solo) revisita o cultuado universo criado no final dos anos 1990 com uma grande motivação: recuperar a autoria sobre a sua obra. O caminho encontrado pela realizadora é a provocação. É a subversão do que representa a Matrix no mundo em que vivemos.
As intenções de Lana eram as mais corajosas possíveis. Na prática, porém, "Matrix Resurrections" esbarra na visão pueril com que a cineasta discute a questão do controle numa sociedade midiática aberta à diluição da individualidade. Em 1999, fazia sentido propor uma alegoria pessimista sobre a vida num futuro tecnológico. Em 2021, não. Lana sabe disso. Não à toa, "Matrix Resurrections" (re)embaralha as cartas a fim de estabelecer uma nova realidade (simulada ou não).
Thomas Anderson (Keanu Reeves) não é mais o hacker antissocial isolado do mundo. A Matrix não é mais um conceito inacessível. A ação não é mais uma necessidade. O roteiro assinado pela própria diretora intriga num primeiro momento ao contestar a realidade fílmica da trilogia. Uma abordagem promissora. E se tudo não passou do surto de um criador de jogos sem controle sobre a sua obra? É impossível não enxergar a metalinguagem aqui. Lana, tal qual Thomas, é obrigada a lidar com as sequelas da sua criação. Com a distorção, com a banalização e com a saturação dos conceitos impressos no código fonte da franquia.
Nos anos seguintes ao seu lançamento, "Matrix" se tornou referências para grupos extremistas, para políticos de direita (com direito a treta no Twitter envolvendo Lana, Elon Musk e Ivana Trump), para uma tóxica orda de trolls/fãs e até para discursos de coach. É a total incompreensão do que representa a mensagem antissistema defendida pelo longa. Lana não aceitaria isso calada.
O melhor de "Matrix Resurrections'', na verdade, está fora da Matrix. Está na maneira com que, nas entrelinhas, a diretora usa a jornada de um acuado Neo para não só retomar (ou pelo menos tentar) o ilusório controle sobre a sua criação, como principalmente para discutir o frágil conceito de "cinema de autor". Na base da ironia, a cineasta testa as expectativas do público ao romper drasticamente com a verve anárquica do original para desafiar a nossa compreensão do que representa a Matrix.
Neste ponto, a continuação pode ser tratada como uma espécie de vírus. Do tipo que usa um app "confiável" para se instalar no hardware e mudar toda a programação do seu notebook/smartphone. Lana não quer roubar dados. Ela quer desfragmentar. Ela resgata o clima de romance superficial estabelecido no desfecho do primeiro filme para conduzir a jornada de Neo para um outro caminho. O herói agora não luta contra o sistema. Ela não luta contra um oponente imparável. Ele luta contra as suas paranoias. Ele luta por amor. Ele luta pelo direito de viver um sonho.
Uma sacada promissora que se perde na Matrix quando percebemos que a energia desta sequência vem exclusivamente da pílula azul. Em Ressurection, Lana confunde desapego com descompromisso numa sequência com conceitos inteligentes, mas uma execução relapsa em basicamente tudo o que se propõe. São duas horas e vinte de pequenas provocações que nunca se convertem num grande filme.
A questão, aqui, não é a maneira corajosa com que o roteiro rompe com códigos inerentes a jornada do "escolhido". O problema está na dificuldade do longa em desenvolver todo o resto. Elementos narrativos básicos como a construção da ameaça, do antagonista, do novo mundo "integrado" e até do romance são sacrificados por um texto que se contenta com o deboche autoconsciente. Com exceção do debate sobre a relação entre um autor e a sua obra, a verve pretensamente anárquica da trama leva a estória para uma zona rasa, escapista e sentimentalista. O próprio Neo de Keanu Reeves parece apático em meio a uma jornada tão sem cara de jornada.
Para piorar, Lana repete erros comuns dentro da franquia, como a manutenção da subserviência feminina representada na figura de Trinity. De volta ao papel original, Carrie-Anne Moss é um mero peão narrativo pensado para motivar a jornada do herói. Ela segue sem voz. Segue sem espaço. Segue sendo um arquétipo pré-programado numa Matrix envelhecida. Esse, aliás, é talvez o grande pecado de "Matrix Resurrections''. Estamos diante de uma continuação versão beta de um aplicativo que nunca seria lançado.
Os efeitos visuais soam arcaicos. A visão de futuro tecnológico parece sem vida. As cenas de ação (com exceção do clímax) são requentadas. Lana se recusa a modernizar o quarto filme. O que só acontece, infelizmente, com as substituições de Laurence Fishburne e Hugo Weaving pelos talentosos Yahya Abdul Mateen II e Jonathan Groff. Uma alteração que prejudica as intenções do roteiro, principalmente na revigorada interação entre Neo e o agente Smith.
Uma pílula azul em formato fílmico, 'Matrix Resurrections" flerta com a provocação, mas se casa com um argumento até careta em vários aspectos. Irritar fãs intransigentes hoje é fácil. O difícil é criar um filme à altura do original a partir de uma visão de futuro binário tão desconectada da realidade fluida em que vivemos.
quarta-feira, 2 de fevereiro de 2022
Crítica | "Los Lobos" comove ao usar o drama de uma família de imigrantes para expor o vazio criado pela ilusão do "sonho americano"
Trazer a realidade do imigrante para a tela grande é sempre um desafio. Não somente pela responsabilidade assumida ao retratar a angústia de muitos. É difícil pensar o cinema a partir da rotina. A partir de uma história tantas vezes contadas. A partir de um contexto por si só pouco imagético.
Em "Los Lobos'', por exemplo, grande parte da trama se passa num quarto minúsculo esvaziado pela condição financeira de uma família mexicana recém-chegada aos EUA. A premissa segue uma lógica infelizmente reconhecível. Abandonada pelo marido, uma jovem mulher e seus dois filhos, os sonhadores Max e Leo (vividos pelos expressivos irmãos Maximiliano e Leonardo Najar Márquez), resolvem tentar a sorte no país vizinho. Enquanto as crianças sonhavam em ir para a Disney, Lúcia tinha total consciência do pesadelo que iria enfrentar.
É encantador ver como "Los Lobos'' expõe a rotina desta família de imigrantes ilegais num filme crítico, mas que se recusa a perder a ternura. Uma obra que crê não na ilusão da "terra das oportunidades", mas na união de uma comunidade que se reconhece no abandono e na exploração. Para isso, o sensível longa dirigido por Samuel Kishi rompe com a ideia de "capitalizar" em cima do drama. O vazio do quarto se torna um terreno fértil para um cineasta que precisa de pouco para dizer muito.
Embora o foco esteja no micro, mais precisamente na relação fraternal entre os pequenos e na reação ao "abandono" imposto por uma estrutura social insensível, "Los Lobos'' expande os seus horizontes ao buscar nos detalhes a dor que os três personagens evitavam expressar. Enquanto Lúcia revela a sua raiva ao limpar um fogão ou ao amassar uma foto, Leo e Max canalizam as suas frustrações através dos desenhos. A verve naturalista do longa (uma mistura de "Nomadland" com "Projeto Flórida") é interrompida sempre que a animação enche a tela nos lembrando da pureza daqueles meninos.
Kishi, a partir da perspectiva deles, se recusa a banalizar o esforço desta comunidade. Uns podem acusar o filme de flertar com a utopia. Uma visão cínica de mundo de quem não vive a realidade de uma família (entre tantas) que resiste na busca da dignidade tomada por um sonho.
O estetoscópio na mala de Lúcia sugere que estamos diante de alguém que vivia outra realidade no México. A opressora bandeira dos EUA em um galpão de uma megastore expõe a real posição daquela matriarca num país que prospera na base do suor do imigrante. A rotina é essa. Nós que perdemos a capacidade de nos importar. "Los Lobos'' é enfático nas suas sutilezas ao revelar o impacto de uma rotina disfuncional gerada por um modelo capitalista capaz de consumir quase tudo, menos o sonho de uma criança.
segunda-feira, 31 de janeiro de 2022
Crítica | "Spencer" troca os fatos por sensações ao pintar um retrato subjetivo sobre uma princesa disposta a desafiar o horror da realeza
Em "Spencer", o diretor Pablo Larraín propõe uma cinebiografia diferente. Uma obra que troca os fatos por sensações. O cineasta não busca apenas humanizar a figura de Lady Diana. Ele usa a pompa da realeza para tentar entender a mulher aprisionada por códigos repressivos. Esqueça o ícone. Esqueça a personalidade empoderada. Esqueça a princesa do povo. "Spencer" desafia o trágico destino da querida monarca disposto a criar a partir da perseguição enfrentada por ela.
Aos olhos de Larraín, um feriado em "família" num castelo no interior ganha ares de pesadelo. O palácio se torna um quartel. O título de princesa era um fardo pesado para qualquer indivíduo carregar. Lady Di (Kristen Stewart) começa o filme perdida. Literalmente. Ela não reconhece mais aquilo que foi. O seu passado é engolido pela névoa da bucólica região. Voltar para casa é regressar para o vazio.
É interessante ver como "Spencer" desafia uma visão bidimensional da realeza. Quando olha para as paredes do pomposo castelo de campo, Lady Di encontra retratos que a assustam. São mulheres emolduradas resumidas a um rótulo. São regentes lembradas não pelo que viveram, mas por aquilo que representaram. "Eu seria conhecida por qual adjetivo", pergunta Diana para a sua camareira vivida por Sally Hawkins. "Chocante", responde a confidente escolhendo uma palavra que descola a protagonista daquele cenário.
Em "Spencer", Larraín enxerga Lady Di como um corpo estranho na realeza. Ele, consciente do que era a vida midiática dela (e do seu trágico destino), persegue a protagonista com uma câmera invasiva que não respeita os espaços. A sua intenção, contudo, não é replicar o hábito da imprensa britânica. Larraín não quer encurralar. Ele quer entender. O diretor usa os códigos daquele conservador cenário para extrair sentimentos que ajudam a tornar tudo mais humano. É um retrato subjetivo em três dimensões. A reveladora fotografia de Claire Mathon, sempre prezando pela profundidade de quadro, nos permite enxergar as múltiplas faces de Diana diante do medo que a consome.
"Spencer" rouba a privacidade para enxergar a luta de uma mulher indômita à procura da liberdade tomada por uma coroa. Enquanto os figurinos remetem a icônica Lady Di, Larraín pressiona para extrair a verdade da menina/mulher/mãe. Enquanto a preciosa direção de arte reforça a pompa em torno da rotina da princesa, a câmera do realizador realça a deterioração da protagonista com planos imagéticos que mais parecem retratos trágicos de uma mulher asfixiada. São contrastes sintomáticos.
"Spencer" constrói este estudo de personagem a partir da relação entre o íntimo e o midiático. A casca remete a Lady Di que conhecemos. O foco, porém, está na essência. Naquilo que nunca vimos. Na angústia de uma princesa diante do horror do patriarcado. Na verdade nunca capturada pelos retratos bidimensionais emoldurados num palácio. Lady Di não queria ser um quadro sem vida.
Um retrato complexo potencializado pela monumental performance de Kristen Stewart. A alma de um projeto desafiador. A atriz personifica a dor de uma figura errática. Ela desmistifica o ícone sem abrir mão da energia radiante que tornou Diana a "princesa do povo". Stewart absorve o turbilhão de emoções enfrentado pela personagem numa atuação pautada pela reação a estímulos angustiantes. Todas as sequências envolvendo a princesa e seus filhos, em especial, possuem uma carga intimista brilhantemente capturada por uma atriz em constante evolução. É através da maternidade, aliás, que Larraín desafia a repressão da realeza. Não à toa, nestes momentos, nas sequências em que mãe e filhos conseguem se isolar daquele mundo, o filme ganha uma atmosfera diferente. Mais acolhedora, leve e serena.
A beleza de "Spencer" não está na expressiva construção visual. Não está nos figurinos, na direção de arte, muito menos na vida dentro dos castelos da família real. O belo, aqui, está na coragem com que Larraín captura a subjetividade de uma regente com sede de liberdade. Ele se encanta pela nobreza de uma mulher do mundo. Ele desafia os fatos à procura de um novo começo. Ele ouve a voz da princesa que o povo não conheceu. Destino? Que destino? Voa Lady Di!